Ensaio | Cênicas
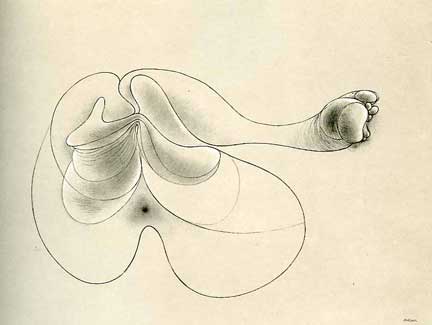
Para começar, façamos um acordo básico: pense junto comigo sobre o fato de que o ato criativo não ocorre apartado das mediações entre corpo e ambiente. Isso nos sugere não só uma obviedade sobre a tentativa incansável de nós ocidentais, em não separar mente e corpo ou sujeito e objeto, como também uma mudança no olhar sobre as implicações entre temporalidade e pensamento histórico.
Podemos dizer a partir dessa obviedade (da implicação entre corpo e ambiente a qual relutamos em admitir conscientemente em função do peso de mecanismos regulatórios e estáveis, burocráticos ou hegemônicos), que configuramos o mundo na mesma medida em que somos configurados por ele. Isso pressupõe o encontro com o outro, o que por sua vez impõe zonas de constrangimento, instabilidade, deslocamento, crise e criação de estratégias de sobrevivência.
Mas o que isso tem a ver com arte? Bem, tendo em vista os pressupostos acima levantados, podemos olhar para arte ou para os procedimentos que ocorrem num processo criativo, para a importância desses procedimentos na constituição da história e, consequentemente, para a produção de conhecimento sobre o sujeito e as coisas no mundo, considerando sua interação dialógica ou violenta com o contexto. Isso porque a esfera da arte tem uma predisposição a testar os limites no encontro com o outro.
A arte, ao testar formas distintas de comunicação, age sobre os limites do corpo e os limites da linguagem, constituindo uma zona de possíveis. Ela opera nessa zona de margens e fronteiras (aquelas que se constituem da eliminação do outro, mas que ao mesmo tempo é infiltrada pela força das relações), seja na preservação, seja na diluição das mesmas. Constitui-se pela tessitura desse espaço que evidencia processos de contaminação e heterogeneidade.
A fim de evidenciar esse último movimento em relação às margens e fronteiras, aquele que atua pela infiltração, agenciamento e contágio promovendo a diluição de certezas, a arte desloca suas competências estabilizadas. Suas formas de comunicação são atualizadas em acordo com suas crises, as crises do seu tempo, e com a incapacidade de “expressar” o que se deseja dentro de uma margem que controla, ordena e impõe fidelidade a “elementos” tradicionais que definem as coisas: o que é teatro, o que é dança, o que é performance etc.
Artaud, quando propõe o corpo sem órgãos como forma de tornar o teatro insubmisso ao texto, se depara, e ao mesmo tempo instaura o limite da linguagem. Duchamp provoca uma real implosão do que se entende por arte friccionando lógicas de mercado, técnicas de arte e recepção colocando o conceito acima de qualquer produção estética e representacional. Tatsumi Hijikata propõe uma dança que não seria possível sem o trauma da guerra, incorpora a morte e a potência de vida, produzindo uma corporalidade de devires (bicho, mulher, homem, planta…).
Com isso, não sei exatamente se o dilema do ator contemporâneo, pensando no teatro, por exemplo, deveria estar na descentralização do drama, mas talvez na ideia de inexistência do drama, pensar no limite, na ausência de chão. É evidente que o corpo se relaciona com o mundo e as informações a partir de um campo de referências e que buscamos a todo tempo fazer associações entre as coisas.
Mas vamos arriscar começando pela mudança nas perguntas, vamos tentar sair do porquê para o como. A partir disso, proponho uma pergunta para embalar nossa conversa: Como lidar com aquilo que é estranho, que não encontramos referência para alguma associação e rejeitamos como forma de defesa, exatamente porque nos desestabiliza?
Eu responderia assim de modo quase irresponsável que um primeiro passo seria olhar para o meu afeto, o afeto que foi proporcionado pelo encontro com essa coisa que não sei o que é, mas que me gera alguma repulsa, e que ao mesmo tempo pode me despertar desejo, ou que me dilui enquanto sujeito indenitário e me coloca em risco porque não tenho vocabulário para lidar com aquilo.
Olhar para esse afeto é também tentar atravessá-lo, transgredir o interdito do medo, e isso não é a mesma coisa de se lançar no desconhecido sem qualquer noção de preservação… Olhar para esse afeto do estranhamento é olhar para si mesmo tentando mapear em tempo real, de onde vêm as minhas certezas. É pensar se o campo de linguagem que me é dado dá conta de improvisar a partir das incertezas, criando outras formas possíveis, inacabadas e até mesmo abjetas, ou somente me sugere como alternativa a afirmação de paradigmas de segregação e recuo.
Se optarmos pela primeira possibilidade, muito mais complexa que a última, precisaremos fundamentalmente nos abrir para o outro, e isso implica, evidentemente, o embate com o outro. Nesse sentido, penso na ideia de Rancière[2] sobre o dissenso, para quem esta ideia constitui o processo político, em que não é possível simplesmente se fechar ou “evitar o conflito” em que há um jogo dinâmico de negociação constante entre sujeito e regimes de poder.
Nesse sentido, interessa, aqui, ativar no corpo o estado antropofágico, deixar-se contaminar pelo “diferente” e ao mesmo tempo abandonar as “catequizações”, caso não lhe sirvam mais (penso aqui no comportamento dos Tupinambás descrito por alguns estudiosos). Esse desprendimento quase sarcástico em relação às normas é o que faz da transgressão e da interdição opostos complementares que fundamentam as relações humanas.
Suponho, portanto, que o processo compositivo do ator ou dançarino, pensando neles como criadores e, também, intérpretes, seja potencializado quando em estado de crise. Justamente porque, em estado de crise, nos deparamos com o limite das possibilidades de comunicação e manutenção de certos reguladores e operadores de poder que controlam e agem diretamente sobre o corpo.
E é nesse processo, em que a precariedade pode ser compartilhada pela mastigação e regurgitação de tudo que lhes é imposto como norma, que se evidencia o abandono de artefatos (no caso das artes cênicas, penso na insistência em legitimar uma obra a partir de recursos tradicionais da cena, como: luz, figurino, maquiagem, etc.) antes imprescindíveis.
Assim, atentar para os “micromovimentos de interface”[3] (aquilo que age no movimento entre o dentro e o fora), ou seja, lidar com o excesso deste tempo, com a anestesia produzida pelo excesso, com a crítica ou autocrítica paralisante e com a crise como potência de movimento, seja, o principal desafio do artista contemporâneo.
______________________________________________________________
[1] Esta resenha é um desdobramento de uma fala realizada por mim no projeto “Mínimos Óbvios” do grupo de teatro “Atelier Voador” para compor a mesa sobre o tema: “Dilemas do ator contemporâneo diante da descentralização do drama”, em 25 de maio de 2016
[2] RANCIÈRE, Jaques. O dissenso. In: NOVAIS, Adauto (Org.). A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
[3] GREINER, Chistine. O corpo em crise: novas pistas e o curto-circuito das representações. São Paulo: Annablume, 2010, pag: 94.
Referências
BATAILLE, Georges. La conjuración sagrada: ensaios 1929-1939. Tradução de Silvio Mat-toni. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2003.
DICIONÁRIO Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva LTDa. Windows, 1 CD-ROM.
GREINER, Chistine. O corpo em crise: novas pistas e o curto-circuito das representações. São Paulo: Annablume, 2010.
_______________. O Corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Annablume, 2005.
RANCIÈRE, Jaques. O dissenso. In: NOVAIS, Adauto (Org.). A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.





